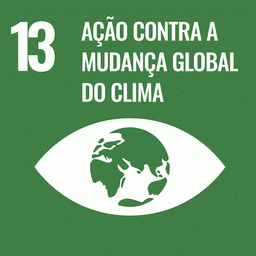Por Bibiana Alcântara Garrido*
A newsletter Um Grau e Meio, do IPAM (Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia) falou com o climatologista José Marengo, coordenador-geral de Pesquisa e Desenvolvimento do Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais) e um dos pesquisadores mais citados do mundo quando o assunto é clima.
Na entrevista, Marengo explicou o termo “evento climático extremo”, contou como funciona o trabalho no Cemaden e avaliou os resultados da COP29 com vistas à COP de Belém.

O climatologista José Marengo, pesquisador do Cemaden (Foto: Divulgação)
Leia a entrevista.
Quais são os tipos de riscos que o Cemaden identifica e, a partir de um risco mapeado, como isso é direcionado para evitar que o desastre ocorra?
O Cemaden trabalha com aspectos de monitoramento de desastres e, depois, considerando a previsão de tempo, a ameaça como componente de risco: muita chuva, pouca chuva e as questões de vulnerabilidade, se tem uma população vulnerável, áreas expostas, pessoas morando perto de córregos ou rios.
Baseado em tudo isso, se elabora uma previsão de alerta de risco de desastre, que pode ser uma enxurrada, deslizamento de terra ou alagamento. O Cemaden monitora 1.133 municípios em todo o Brasil, a maior parte concentrada na região leste, que é a que tem maior histórico de desastres e maior densidade populacional. Claro que há cidades assim na Amazônia também; Manaus, por exemplo, tem alto risco de deslizamento de terra.
Esse alerta é emitido e repassado para a Defesa Civil, que, por sua vez, repassa para os municípios onde o alerta foi emitido. Depois, a Defesa Civil e os bombeiros tomam as ações necessárias, como evacuar as pessoas. Tudo isso acontece em questão de horas, porque, quando temos uma chuva intensa, o risco de deslizamento de terra pode ocorrer no mesmo dia, o que é diferente da seca, que pode se desenvolver em um prazo maior.
Temos também o monitoramento dos rios que podem ser afetados e, se há a combinação de seca e ondas de calor, o monitoramento de incêndios, feito pelo INPE, nos traz o risco de propagação do incêndio, que também seria um desastre.
O ideal seria monitorar todos os municípios do Brasil, mas, como não dá para monitorar todos, priorizamos os mais críticos. Tem o número dos 1.942, que apresenta Marina Silva. Mas, para o município ser monitorado, ele precisa ser instrumentalizado. No Rio Grande do Sul, vamos reconhecer mais 47 municípios depois do desastre que aconteceu.
Há uma média de alertas que o Cemaden costuma emitir por ano? Sabemos de exemplos em que esses alertas não foram o suficiente (São Sebastião, Rio Grande do Sul), mas o senhor pode compartilhar casos em que foi possível evitar o pior?
No ano passado, a gente emitiu 1.200 alertas, entre ‘baixo’, ‘moderado’, ‘alto’ e ‘muito alto’ risco. Muitos alertas ‘alto’ e ‘muito alto’ foram emitidos para o Espírito Santo e para as chuvas e inundações no Rio Grande do Sul neste ano. No verão, é quando ocorre o maior número de desastres; no inverno, o risco é de estiagem, ondas de calor e incêndios florestais.
A governança de um desastre é como uma corrente. O que percebemos em São Sebastião foi que os alertas foram emitidos, a Defesa Civil implementou, mas, da mesma forma que ocorreu no Rio Grande do Sul, e que o Cemaden está tentando ajudar, é na percepção do risco de desastre.
A Defesa Civil é quem evacua a população, mas há prefeituras que não têm essa Defesa Civil, ou as Defesas Civis não estão equipadas: não têm veículos, não têm computadores. Falta equipamento e também falta essa percepção de que a chuva pode matar. Isso não significa que a população seja responsável pela própria morte, mas sim que não existe essa percepção no Brasil, porque acham que “isso nunca aconteceu antes” ou acreditam que “a casa não vai ceder”.
Não adianta fazer a melhor previsão de alerta se a população não segue os alertas, simplesmente porque não entende. Nas chuvas em Jaboatão dos Guararapes, os meninos da escola viram o alerta do Cemaden, entenderam e explicaram. Uma família que morava perto de uma área de mata vizinha deles foi convencida pelas crianças a sair, e as casas foram destruídas.
Isso não é algo que se consegue de um dia para o outro. É algo cultural, educacional. Por exemplo, no Japão, as crianças já sabem o que fazer diante de um terremoto. No Peru também: há rotas para fugir de terremotos e tsunamis, e ninguém para para questionar. Isso falta um pouco aqui no Brasil.
Quando surgiu a expressão “evento climático extremo” e passou a ser mais usada?
Dentro da climatologia, a gente trabalha com a média e com os extremos, assim como nas estatísticas você tem a média e o desvio padrão. Essa expressão sempre foi usada quando você tinha uma chuva maior. Mas, em 2012, o IPCC publicou um relatório especial relacionando eventos climáticos associados a riscos de desastres. Além de terremotos e tsunamis, muitos desastres eram causados por extremos de chuva, de calor, ondas de frio ou falta de chuva.
Aí começamos a trabalhar mais. Creio que tenha sido o ano do desastre na região serrana do Rio. Aí começaram a falar mais, e nos próximos relatórios do IPCC também. De fato, é verdade que os extremos estão se tornando mais extremos e mais frequentes por causa do aquecimento global nos últimos 20 anos.
E aí, quando temos uma seca na Amazônia, é “a seca do século”, mas, em um quarto de século, já tivemos vários extremos secos e extremos chuvosos. Depois do desastre de São Sebastião, começamos a trabalhar com o conceito de emergência climática, uma parte de governança para enfrentar a crise climática.
Agora, basicamente, as pessoas usam os dois termos, porque o extremo não é o desastre; o extremo deflagra o desastre. Porque, se você tem uma tempestade no meio do mar, isso não mata pessoas. Mas, se acontece no meio de Belo Horizonte, isso passa a ser um desastre.
Quais são as consequências práticas de um clima extremo para nosso país?
As consequências estão em todo lugar: impactos nos biomas, impactos em processos. Por exemplo, na seca, a degradação do solo pode levar à desertificação a longo prazo. Mas também há impactos na população, especialmente na população que mora nas periferias, em situação de vulnerabilidade. Elas estão construindo ali não porque querem, mas porque precisam.
Um extremo de seca, quando o nível do rio cai muito, pode isolar uma comunidade indígena, afetando a qualidade de vida e a segurança dessa comunidade. Por outro lado, a falta de água em muitos lugares gera emergência alimentar e insegurança alimentar, porque não há água para irrigar plantas ou alimentar o gado. Há também a insegurança energética, com reservatórios quase vazios, como aconteceu em São Paulo.
Além disso, há os impactos sociais. A população é afetada tanto na parte social quanto na socioeconômica e na saúde. Muitas vezes, esses eventos criam problemas duradouros. Por exemplo, um estudo feito após o deslizamento de terra em Blumenau, em 2002, mostrou que, meses e anos depois do desastre, o número de casos de depressão e suicídio aumentou.
Há um aspecto social e médico aqui que deve ser analisado. Não é só o desastre imediato que mata. Uma onda de calor pode matar: no México, ao menos 155 pessoas morreram quando as temperaturas chegaram a 45 graus. Ainda estamos fazendo esse levantamento. Mais de 200 macacos também morreram, para falar de outras espécies e de toda a biodiversidade que também é impactada.
Quando falamos de extremos climáticos, estamos falando de eventos que podem matar pessoas, afetam a economia – como no Rio Grande do Sul, que perdeu bilhões de reais em agricultura e receita com aeroporto fechado.
O que o senhor achou dos resultados da COP29 e o que espera para a COP30 no Brasil?
Para a COP30, o ministério está coordenando a participação do Cemaden, porque essas COPs são uma grande feira. As negociações ficam muito restritas, mas ONGs e institutos de pesquisa participam, então o Cemaden está envolvido, sim. Há muita expectativa pela COP30 ser em um país amazônico, com muitos players do clima.
Na COP29, talvez o melhor acordo tenha sido sobre o mercado de carbono. Mas, sobre o fundo de compensação, 300 bilhões é muito pouco. Na verdade, poderíamos aceitar trabalhar com esse valor e depois pedir mais.
Mas o mais preocupante, eu acho, é o governo de Donald Trump agora. Quando ele estava no primeiro mandato, as COPs eram muito tímidas. [Os Estados Unidos são] um dos países mais poluidores do mundo, isso traz preocupação sobre o sucesso da COP com essa situação.
Além disso, teve reunião em que os países insulares abandonaram a discussão porque suas demandas não estavam sendo atendidas. O acordo foi parcial, de forma que a COP30, em Belém, começasse com algo positivo.
Muito obrigada pela entrevista. Gostaria de acrescentar algum comentário?
Eu acho que a ciência é extremamente importante. Em muitos casos, ainda há suspeita, negacionismo de clima, mas todos nós estamos experimentando esse clima agora.
Se o governo não tomar ações para reduzir a vulnerabilidade da população, a possibilidade de termos desastres mais intensos no futuro é maior, e isso pode afetar a vida das pessoas. Precisamos estar preparados para enfrentar isso.
*Jornalista de ciência do IPAM, bibiana.garrido@ipam.org.br